Com a palavra, o Presidente
Beluzzo quer jogo em Recife como se fosse o último da vida.No entanto, mandatário avisa torcida que, caso time seja eliminado da Libertadores, não será o fim do mundo, pois ainda há o Brasileiro:
O palmeirensismo
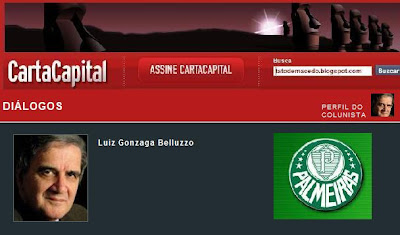
Por Luiz Gonzaga Belluzzo
Depois da eleição, a imprensa, os amigos, os torcedores, meus filhos perguntavam como eu me sentia como presidente do Palmeiras. Diante da pergunta dos perguntadores eu me perguntava se deveria sentir alguma coisa diferente do que já sentia. Orgulho, satisfação, vaidade? Para ser franco, nada disso. Uma coisa é o que sinto em relação ao Palmeiras, outra é o que os torcedores e até adversários imaginam que eu deva sentir. Além do frio na barriga, sinto a mesma coisa que já sentia: o Palmeiras faz parte da minha vida. A transição de torcedor para presidente foi, digo sem pretensão, natural, se é que existem coisas naturais na vida moderna.
Amigos mais próximos, todos insuspeitos de partilhar euforias e admirações generosas, sabem o que estou dizendo. Agradeço quando deixam transparecer uma preocupação solidária. Quando isso acontece, fico reconfortado. As exuberâncias irracionais, essas só aumentam minhas aflições.
Em pouco tempo, compreendi que, no Brasil, ser presidente de um grande clube de futebol não é pouco. Os que têm elevada propensão ao ego inflado correm graves riscos de implosão de sua “bolha” espiritual. Para não ser vítima do “estouro da bolha”, reze antes de dormir: “não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal (da vaidade). Amém”. Não siga o exemplo do personagem de Woody Allen que confessou “ter-se convertido do judaísmo ao narcisismo”, diante das pessoas que indagavam o motivo de seu sucesso.
Sábado, 40 graus à sombra. Festa de sócios remidos na Academia de Futebol. Cercado por meninos, jovens, senhores e senhoras, tirei fotos, autografei camisas, as verdes e as verde-limão, além de outros objetos grafáveis. Entre os adultos, havia mais cordialidade do que admiração despropositada. Os jovens e pequenos torcedores queriam falar de seus ídolos verdadeiros, entre os quais não estava, certamente, o presidente do clube. Os meninos e meninas me exibiam com orgulho os autógrafos do Marcos, do Keirrison, do Lenny, do Clayton Xavier. Diante de tantas assinaturas ilustres, eu perguntava por que queriam a minha. Respondiam com cara de interrogação.
Uma garota se aproximou com uma camisa do Palmeiras. Aparentava a idade de minha filha Luísa: “Sou bisneta do professor Zeferino Vaz”. Zeferino foi o fundador da Unicamp e segurou a barra da universidade nos anos de chumbo. Minha dívida com o professor Zeferino é especial. A bisneta do meu ex-reitor me pediu um autógrafo. Quase pedi um autógrafo para ela.
Um amigo sensato observou que alguma coisa está errada quando cartolas dão autógrafos. Não sei se é o caso de certo ou errado. O critério, acho, deve ser outro. Como fenômeno social e cultural o futebol de hoje não é mais o sport, a atividade laica, liberal e competitiva que os ingleses criaram no século XIX. Os clubes se transformaram em uma crença, uma religião ou, se quiserem, numa forma de identificação (e também de des-identificação) num mundo em que as identidades sucumbem e se dissolvem diante das forças da universalização capitalista.
A fraca natureza dos homens, é minha suspeita, não raro processa o turbilhão de esperanças e salamaleques dos torcedores como um apelo ao sujeito providencial, ao salvador da pátria. Deus me livre. Nada mais arriscado. Pé atrás com gestos salvacionistas. A qualquer momento, vitórias imaginárias se transfiguram em derrotas absolutas.
Antes do jogo com o Colo-Colo, o time do Palmeiras era o melhor do Brasil, cuíca do mundo. Os jogadores, todos jovens, maravilhosos. O treinador, genial. Conseguiu entrosar o time em pouco tempo. Isso, a despeito das cautelosas advertências do Vanderley Luxemburgo sobre a precocidade, os exageros e as irrealidades das celebrações.
Depois da derrota, o time não valia nada. Fora os telefonemas de palestrinos, uns furiosos outros angustiados, minha caixa postal ficou entupida de sugestões de novas contratações e modificações táticas urgentes. As sugestões desesperadas têm um traço comum: a cada derrota é preciso reinventar o mundo encantado das vitórias permanentes, aquelas em que o adversário está sempre prostrado em sua humilhação e inferioridade.
Já escrevi e repito: descendentes de Dante, Leopardi e Lampedusa, para não falar de Visconti e Fellini, os palmeirenses verdadeiros são mestres da crítica, da irreverência e da intolerância com o próprio time. A Turma do Amendoim não perdoa erro de respiração em minuto de silêncio. Pergunto ao caro leitor, seja ele palmeirense ou muito ao contrário: você conhece outro time no mundo que tenha uma torcida como a Turma do Amendoim? Duvido.
Mas, se conheço bem a “Turma do Palestra”, nenhum de nós tem a intenção de ferir de verdade os alvos ocasionais de nossos ataques. Eles são apenas encarnações da derrota, fontes de nossas frustrações momentâneas, que trazem sempre consigo aquela conflagração de sentimentos, angústias dos que foram obrigados a deixar a sua terra e encontraram nesta parte tropical da América um novo mundo, aberto ao sofrimento quase solitário do desterro e à esperança do progresso pessoal. Estamos, em nosso individualismo peninsular, sempre caminhando perigosamente entre o delírio das conquistas inesquecíveis e a mais abominável depressão dos fracassos definitivos.
É sábia e saudável a regra de não consagrar qualquer um que provisoriamente veste a gloriosa camiseta alviverde. Prestem atenção nos nomes que vêm a seguir: Romeu Pelliciari, Villadonica, Waldemar Fiume, Jair da Rosa Pinto, Chinesinho, Ademir da Guia, Mazinho, Edmundo, Rivaldo, Djalminha, Alex. Várias gerações de craques refinados, artistas da bola, comparáveis na arte de criar aos mestres renascentistas Leonardo da Vinci e Michelangelo. Por isso, as exigências são justificadas.
Mas a nossa proverbial intolerância com as falhas de nossos atletas está fazendo esmaecer a outra virtude, aquela que nos distinguia dos torcedores comuns: a sabedoria de tratar a amargura das derrotas com humor e autoironia, atitude própria dos que conhecem as limitações da condição humana. É isso que assegurou, no século XX, nossa trajetória vitoriosa acima de qualquer resultado contingente.
Fonte: CartaCapital
Amigos mais próximos, todos insuspeitos de partilhar euforias e admirações generosas, sabem o que estou dizendo. Agradeço quando deixam transparecer uma preocupação solidária. Quando isso acontece, fico reconfortado. As exuberâncias irracionais, essas só aumentam minhas aflições.
Em pouco tempo, compreendi que, no Brasil, ser presidente de um grande clube de futebol não é pouco. Os que têm elevada propensão ao ego inflado correm graves riscos de implosão de sua “bolha” espiritual. Para não ser vítima do “estouro da bolha”, reze antes de dormir: “não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal (da vaidade). Amém”. Não siga o exemplo do personagem de Woody Allen que confessou “ter-se convertido do judaísmo ao narcisismo”, diante das pessoas que indagavam o motivo de seu sucesso.
Sábado, 40 graus à sombra. Festa de sócios remidos na Academia de Futebol. Cercado por meninos, jovens, senhores e senhoras, tirei fotos, autografei camisas, as verdes e as verde-limão, além de outros objetos grafáveis. Entre os adultos, havia mais cordialidade do que admiração despropositada. Os jovens e pequenos torcedores queriam falar de seus ídolos verdadeiros, entre os quais não estava, certamente, o presidente do clube. Os meninos e meninas me exibiam com orgulho os autógrafos do Marcos, do Keirrison, do Lenny, do Clayton Xavier. Diante de tantas assinaturas ilustres, eu perguntava por que queriam a minha. Respondiam com cara de interrogação.
Uma garota se aproximou com uma camisa do Palmeiras. Aparentava a idade de minha filha Luísa: “Sou bisneta do professor Zeferino Vaz”. Zeferino foi o fundador da Unicamp e segurou a barra da universidade nos anos de chumbo. Minha dívida com o professor Zeferino é especial. A bisneta do meu ex-reitor me pediu um autógrafo. Quase pedi um autógrafo para ela.
Um amigo sensato observou que alguma coisa está errada quando cartolas dão autógrafos. Não sei se é o caso de certo ou errado. O critério, acho, deve ser outro. Como fenômeno social e cultural o futebol de hoje não é mais o sport, a atividade laica, liberal e competitiva que os ingleses criaram no século XIX. Os clubes se transformaram em uma crença, uma religião ou, se quiserem, numa forma de identificação (e também de des-identificação) num mundo em que as identidades sucumbem e se dissolvem diante das forças da universalização capitalista.
A fraca natureza dos homens, é minha suspeita, não raro processa o turbilhão de esperanças e salamaleques dos torcedores como um apelo ao sujeito providencial, ao salvador da pátria. Deus me livre. Nada mais arriscado. Pé atrás com gestos salvacionistas. A qualquer momento, vitórias imaginárias se transfiguram em derrotas absolutas.
Antes do jogo com o Colo-Colo, o time do Palmeiras era o melhor do Brasil, cuíca do mundo. Os jogadores, todos jovens, maravilhosos. O treinador, genial. Conseguiu entrosar o time em pouco tempo. Isso, a despeito das cautelosas advertências do Vanderley Luxemburgo sobre a precocidade, os exageros e as irrealidades das celebrações.
Depois da derrota, o time não valia nada. Fora os telefonemas de palestrinos, uns furiosos outros angustiados, minha caixa postal ficou entupida de sugestões de novas contratações e modificações táticas urgentes. As sugestões desesperadas têm um traço comum: a cada derrota é preciso reinventar o mundo encantado das vitórias permanentes, aquelas em que o adversário está sempre prostrado em sua humilhação e inferioridade.
Já escrevi e repito: descendentes de Dante, Leopardi e Lampedusa, para não falar de Visconti e Fellini, os palmeirenses verdadeiros são mestres da crítica, da irreverência e da intolerância com o próprio time. A Turma do Amendoim não perdoa erro de respiração em minuto de silêncio. Pergunto ao caro leitor, seja ele palmeirense ou muito ao contrário: você conhece outro time no mundo que tenha uma torcida como a Turma do Amendoim? Duvido.
Mas, se conheço bem a “Turma do Palestra”, nenhum de nós tem a intenção de ferir de verdade os alvos ocasionais de nossos ataques. Eles são apenas encarnações da derrota, fontes de nossas frustrações momentâneas, que trazem sempre consigo aquela conflagração de sentimentos, angústias dos que foram obrigados a deixar a sua terra e encontraram nesta parte tropical da América um novo mundo, aberto ao sofrimento quase solitário do desterro e à esperança do progresso pessoal. Estamos, em nosso individualismo peninsular, sempre caminhando perigosamente entre o delírio das conquistas inesquecíveis e a mais abominável depressão dos fracassos definitivos.
É sábia e saudável a regra de não consagrar qualquer um que provisoriamente veste a gloriosa camiseta alviverde. Prestem atenção nos nomes que vêm a seguir: Romeu Pelliciari, Villadonica, Waldemar Fiume, Jair da Rosa Pinto, Chinesinho, Ademir da Guia, Mazinho, Edmundo, Rivaldo, Djalminha, Alex. Várias gerações de craques refinados, artistas da bola, comparáveis na arte de criar aos mestres renascentistas Leonardo da Vinci e Michelangelo. Por isso, as exigências são justificadas.
Mas a nossa proverbial intolerância com as falhas de nossos atletas está fazendo esmaecer a outra virtude, aquela que nos distinguia dos torcedores comuns: a sabedoria de tratar a amargura das derrotas com humor e autoironia, atitude própria dos que conhecem as limitações da condição humana. É isso que assegurou, no século XX, nossa trajetória vitoriosa acima de qualquer resultado contingente.
Fonte: CartaCapital



Comentários